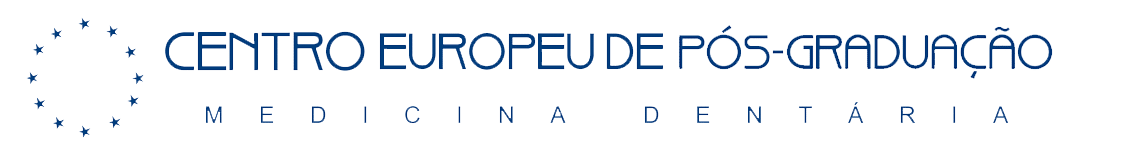Universidade Fernando Pessoa Faculdade de Ciências da Saúde Porto, 2018
Reabilitação Mandibular Parcial Posterior com Implantes Infra: Caso Clínico
Trabalho apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do Diploma Universitário em Implantologia e Reabilitação Oral.
Dra. Catarina Varela de Sousa Cotrim
Resumo
-
O planeamento cirúrgico com base no exame clínico pré-operatório, exames complementares e plano de tratamento é fundamental para minimizar riscos e contratempos, permitindo clinicamente planear duma forma reversa dando relevância à opção protética, melhorando substancialmente o controlo da estética, função e oclusão, bem como, os resultados a longo-prazo.
Palavras-chave: “planeamento cirúrgico” “disponibilidade óssea” “regeneração óssea” “osteointegração” “reabilitação”
Abstract
-
The surgical planning based on preoperative clinical examination, complementary exams and treatment plan is fundamental to minimize risks and setbacks, allowing clinically to plan in a reverse way giving relevance to the prosthetic option, substantially improving the control of esthetics, function and occlusion as well as long-term results.
Keywords: “Surgical planning” “bone availability” “bone regeneration” “osseointegration” “rehabilitation”
Agradecimentos
Gostaria de agradecer a toda a equipa, em especial à minha amiga e colega Dr.ª Margarida Cortez, ao nosso orientador sempre presente Dr. Anthony Farsoun, ao Dr. Hiram Fisher pelo conhecimento que nos transmitiu com toda a sua paciência, à Maria da Cruz por ter sempre uma palavra certa na altura certa, a toda a equipa do centro europeu de pós-graduação que tornaram tão agradável este ano.
-
Introdução 1
-
Objetivo 1
-
Problema 1
-
-
Enquadramento Teórico 2
-
Caso Clínico 9
-
Anamnese 9
-
Situação clínica inicial 10
-
Opções terapêuticas 13
-
Protocolo selecionado 14
-
Situação clínica final (Prova de dentes) 19
-
-
Discussão 20
-
Conclusão 24
Bibliografia 25
Figura 1 – Ortopantomografia inicial 9
Figura 2 – Fotografias intraorais 10
Figura 3 – Fotografias extra-orais da cavidade oral 11
Figura 4 – Fotografias iniciais de rosto 12
Figura 5 – Planeamento tomográfico no programa Blueskyplan® 13
Figura 6 – Etapas cirúrgicas planeadas 16
Figura 7 – Etapas protéticas 18
Figura 8 – Situação clínica final 19
Tabela 1 – Comparação do torque de inserção de cada implante e dos valores de ISQ iniciais e passados e meses 23
Ceraburr® – Broca para corrigir inclinação DVO – Dimensão vertical oclusal
ISQ – Quociente de estabilidade implantar (mede estabilidade dos implantes de 0 a 100) Locators® – Sistema de retenção de encaixe macho-fêmea entre implantese prótese OSTEL® – Aparelho eletrónico medidor de ISQ
PTFIS – Prótese total fixa implanto-suportada
PTR – Prótese total removível muco suportada (prótese total convencional) PTRIS – Prótese total removível implanto-suportada ou sobredentadura TAC – Tomografia axial computorizada
CBCT – Cone beam computed tomography
ROG – Regeneração óssea guiada
-
Introdução
-
Objetivo
O objetivo deste trabalho incide na discussão do planeamento do caso clínico realizado ao longo do curso de implantologia e reabilitação oral. O caso clínico descrito nesta monografia foi realizado, em conjunto com a Dr.ª Margarida Cortez, que procedeu à total reabilitação do maxilar superior. A reabilitação de toda a maxila irá ser documentada na sua monografia. A minha documentação irá incidir sobre a reabilitação parcial fixa com implantes da mandíbula, neste caso a nível do quarto quadrante. Na reabilitação da mandíbula, para que fosse possível devolver quer a estética quer a função da paciente resolvemos reabilitar com uma ponte sobre implantes de 44 a 47. No momento cirúrgico colocou-se três implantes infra Duocon® respetivamente no espaço edêntulo do 44, 46 e 47.
-
Problema
O objetivo da cirurgia para colocação de implantes é substituir a forma radicular de um dente, que quando colocado com a forma e angulação correta, possa ser usado como pilar protético. O osso deve receber o menor trauma possível e este deve apresentar saúde, volume e densidade adequados para o preparo, colocação e cicatrização do implante (Misch, 2000). Numa reabilitação fixa sobre implantes, as principais recomendações são: o exame clínico pré-operatório, exames complementares e o plano de tratamento completo. Se não houver um bom planeamento poderá comprometer toda a viabilidade do caso.
Neste caso em concreto houveram alguns aspetos que tiveram que ser considerados previamente à colocação dos implantes, defeitos ósseos como na zona correspondente ao 44 que apresentava um defeito vestibular logo abaixo da crista óssea comprometendo assim a largura disponível. Na região entre o 45 e 46 existia uma opacidade com maior densidade que ponderámos tratar-se de exostose ou mesmo uma raiz anquilosada, optámos por essa razão desviar a colocação dos implantes comprometendo algum paralelismo e inclinação bem como distâncias entre dente 43 e implante e entre implantes.
-
-
Enquadramento Teórico
Como referido acima, as principais recomendações são: o exame clínico pré-operatório, exames complementares e o plano de tratamento completo.
O exame pré-operatório envolve:
-
A avaliação da condição médica do paciente;
-
Análise da integridade do local e morfologia óssea (Misch, 2000);
-
Avaliação de todas as contra-indicações absolutas: as contra-indicações absolutas à colocação de implantes com base no risco cirúrgico e anestésico são limitadas aos pacientes com patologias agudas, metabólicas descompensadas e grávidas (Peterson, Ellis&Hupp, 2000).
O plano de tratamento envolve:
-
Examinar a saúde intra-oral dos tecidos duros e moles, bem como a morfologia óssea do local cirúrgico realizando análise clínica e radiográfica;
-
Análise clínica: na análise clínica processa-se à inspeção e palpação das áreas edêntulas percebendo o volume ósseo disponível;
-
Avaliação da distância entre os arcos maxilares (que deve ser pelo menos de 5mm inter-arcadas);
-
Análise radiográfica: avaliação da ortopantomografia e de radiografias periapicais, que apesar de não darem informação sobre a qualidade óssea e largura do rebordo, são importantes para observar modificações anatómicas em redor da zona edêntula e identificar estruturas anatómicas como o seio maxilar e nasais, nervo alveolar inferior e mentoniano, os ápexes de dentes adjacentes e zona coronal da crista alveolar. Contudo é sempre estritamente necessário recorrer-se a imagens a três dimensões como a TAC/CBCT (Lindhe&Karring, 2005).
No passado, até à década de 90, a investigação em implantologia centrava-se principalmente no interface osso-implante dos implantes endo-ósseos. Até então, acreditava-se que a ancoragem previsível do implante requeria contacto direto osso- implante, sem a qual, o procedimento não seria bem sucedido.
As investigações que se sucederam, tinham como objetivo a avaliação de parâmetros nos procedimentos cirúrgicos e características na forma e superfície do implante para alcançar a integração nos tecidos duros.
Atualmente, a abordagem mais adequada para o tratamento com implantes dentários assenta, antes de mais, no planeamento da reconstrução protética desejada, na regeneração óssea (quando necessária) para a osteointegração dos implantes e na colocação dos implantes na posição tridimensional ideal para alcançar o tão desejado resultado estético, biológico e funcional (Benic&Hämmerle, 2014).
No entanto, nem sempre a colocação dos implantes na posição tridimensional ideal é, logo à partida, viável. A perda de osso em resultado de doença, trauma ou extensa remodelação óssea após extrações, pode ocasionar problemas terapêuticos para a reconstrução e/ou para o tratamento com implantes dentários (Benic&Hämmerle, 2014).
Assim, a colocação de implantes, tanto na maxila quanto na mandíbula, pode ser dificultada pela insuficiente quantidade de osso alveolar nos locais recetores. Neste contexto, a correção dos colapsos da crista óssea com tecidos duros assume especial importância (Benic&Hämmerle, 2014).
Não obstante, existem vários métodos regenerativos disponíveis, aparentemente com sucesso. Todos eles, entretanto, apresentam um aspeto em comum: a concordância com os princípios da biologia óssea. Além do mais, há um número crescente de diferentes materiais que podem ser utilizados em procedimentos de aumento ósseo (Benic&Hämmerle, 2014).
A regeneração óssea pode ser baseada em enxertos que, por sua vez, podem classificar- se com base no volume ósseo e/ou a taxa de formação óssea em:
-
Osteoproliferativos (osteogénicos): formação de novo osso assegurado por células precursoras de osso contidas no material enxertado;
-
Osteoindução: formação óssea é induzida no tecido mole imediatamente adjacente ao material enxertado, através da utilização de fatores de crescimento apropriados;
-
Osteocondução: o material enxertado não contribui, por si só, para a formação de novo osso, mas serve como um condutor para a formação de osso a partir do tecido ósseo adjacente;
-
Regeneração óssea guiada (ROG): permite que os espaços mantidos por membranas, que funcionam como barreira, sejam preenchidos por novo osso (Hämmerle&Jung, 2003).
A sua modalidade de aplicação abrange diversas formas, tais como a forma de bloco, granular, moldável, injetável ou através do endurecimento in situ do material (Benic&Hämmerle, 2014).
A biologia inerente aos enxertos ósseos e materiais aloplásticos com fins regenerativos partem da premissa que estes materiais podem servir como uma matriz para a formação óssea (osteocondução), conter as células formadoras de osso (osteogénese) ou substâncias osteoindutivas (osteoindução) (Ramseier et al., 2012).
Para que tal seja alcançado, os enxertos e os substitutos ósseos precisam de preencher os seguintes requisitos: biocompatibilidade, osteocondutividade, suporte mecânico adequado da membrana para fornecer o volume do osso regenerado, biodegradabilidade e substituição pelo próprio osso do paciente (Benic&Hämmerle, 2014).
Os enxertos ósseos e os substitutos ósseos podem ser classificados em quatro grupos, de acordo com sua origem:
-
Autoenxerto: enxerto ósseo obtido a partir do próprio paciente, (intra ou extra- oralmente);
-
Aloenxerto: enxerto ósseo obtido dum dador da mesma espécie, (osso fresco congelado, osso liofilizado, osso liofilizado desmineralizado);
-
Xenoenxerto: enxerto ósseo derivado de bovinos, porcinos e equídeos;
-
Aloplástico: enxerto ósseos produzidos sinteticamente, (fosfato tricálcico, hidroxiapatita, cimento de fosfato de cálcio, sulfato de cálcio, vidro bioativo).
-
No momento cirúrgico, como irei descrever na discussão do caso clínico, utilizei o fosfato tricálcico para a resolução duma fenestração que ocorreu com a broca lança, no momento da colocação do implante correspondente ao 44.
Como a maioria dos estudos incidia, maioritariamente, na integração do implante no osso, pouco se compreendia no que respeita à dimensão e relação dos tecidos moles à volta dos implantes. Actualmente, essencialmente por motivos estéticos e por se constituir uma barreira biológica, verifica-se uma mudança de paradigma relativamente à importância dos mesmos. Um implante osteointegrado com sucesso, não garante a
satisfação do paciente. Nesse sentido, a saúde dos tecidos moles é crítica na percepção do doente de uma reabilitação bem sucedida. Dessa forma, é importante considerar os tecidos moles peri-implantares em dois aspetos: morfologia da sua estrutura e função fisiológica da junção implanto-gengival.
Após imediata colocação do implante há uma destruição do epitélio oral que, com o tempo, regenera e migra ao longo da superfície do implante do 3º ao 10º dia de cicatrização pós-cirúrgico. Este padrão de proliferação da regeneração do epitélio é muito semelhante à migração apical do epitélio juncional na formação das bolsas periodontais. O epitélio peri-implantar apresenta-se totalmente regenerado, com suas características morfológicas normais, quinze dias após a colocação do implante. A união do epitélio à superfície do implante tem sido alvo de controvérsia, uma vez que alguns estudos in vivo e in vitro comprovam a existência de estruturas semelhantes a hemidesmossomas (James & Schultz 1973; Gould et al 1981). Porém, outros investigadores defendem que o titânio não é o material ideal para proporcionar a existência de hemidesmossomas na sua superfície (Janssen et al 1985; Kasten et al 1990). Nesse sentido, são necessários mais estudos que comprovem a existência de hemidessomas na interface implante-epitélio assim resultantes.
Após colocação do implante, forma-se um intenso infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo, com predomínio de neutrófilos, que desaparece ao fim do 5º dia de cicatrização com consequente rearranjo das fibras de colagénio que se dispõem circunferencialmente à volta do implante cuja disposição funciona então como uma barreira de proteção à migração apical do epitélio, com uma espessura de 30-40 nm (Ruggeri et al. 1992; Ruggeri et al.1994).
A cicatrização óssea obedece a 3 fases:
1ªfase (2-6 semanas): após a colocação do implante há hemostase e organização do coágulo, formação de tecido de granulação e formação de osso imaturo (calo ósseo).
2ªfase (6-18 semanas): substituição de osso imaturo por osso lamelar, compactação óssea e necrose do leito implantar original e formação de novo osso;
3ªfase (18-54 semanas): Maturação óssea e remodelação.
A osteointegração ocorre passados 3-4 meses da colocação do implante e a remodelação óssea ativa fica instalada um ano após condições normais de função.
Note-se que podem surgir complicações, tais como mucosite e peri-implantite.
Os sinais associados à mucosite, nem sempre evidentes, são: depósitos de placa bacteriana e/ou calculo; mucosa hiperplásica, eritematosa e edemanciada; aumento progressivo da profundidade de sondagem, presença de hemorragia à sondagem, supuração e/ou fístula; abcesso; evidência radiográfica de perda óssea alveolar e mobilidade do implante (num estadio avançado da doença).
No que se refere à patologia peri-implantar, poderá ser assintomática ou sintomática, esta última quando é acompanhada de dor (exacerbada na percussão) (Lindhe.2005).
O diagnóstico clínico da peri-implantite, requer a detecção das seguintes caracteristícas: aumento progressivo da profundidade de sondagem, (Karoussis et al, 2004) presença de hemorragia à sondagem, evidência radiográfica de perda de osso alveolar (em forma de cratera), perda óssea superior a 3 espiras ou de 1.8 mm após o primeiro ano em função. Também presentes podem estar: depósitos de placa bacteriana e/ou cálculo visíveis, supuração, mucosa eritematosa, hiperplasia e mobilidade (pode ocorrer na fase final de progressão da doença e indica perda de osteointegração) (Lindhe.2005).
O espaço biológico é definido desde a primeira conexão do implante ao pilar ou do implante à prótese. A conexão e desconexão repetida do parafuso de cicatrização durante o processo de realização da prótese parece que promove a rotura de inserção de fibras, favorecendo a penetração de bactérias, levando à criação de uma zona contaminada, e a partir desse momento estabelece-se o espaço biológico como o espaço necessário entre a crista óssea e a zona contaminada.
A maioria dos sistemas de implantes disponíveis no mercado, são constituídos por dois componentes: o implante propriamente dito (colocado no osso alevolar) e o pilar da prótese (promove a conexão do implante à prótese). A conexão interna é cada vez mais usada, é de fácil utilização, apresenta menores complicações mecânicas, uma melhor resistência às forças laterais e um centro de rotação mais baixo, que permite a distribuição das forças absorvidas pelo pilar ao implante (Maeda et al 2006). Do ponto de vista biológico, a conexão externa favorece uma maior contaminação bacteriana
(Oliveira et al 2004), podendo contribuir para uma perda na dimensão dos tecidos perimplantares.
A junção do implante-pilar numa posição mais interna pode limitar a reabsorção óssea marginal e a migração apical do espaço biológico, localizando as bactérias, o infiltrado celular inflamatório, micromovimentos e concentração de stress longe da interface implante-osso crestal (Maeda et al 2006 ). É possibilitada uma redução da concentração de stress em torno do colo do implante, mudando-a do osso compacto para o osso esponjoso e da área cervical para o centro do pilar.
As semelhanças entre o epitélio que rodeia os dentes e os implantes são evidentes não só a nível da morfologia (Berglundh et al.1991), (Listgarten et al.1991), mas também no que respeita à homeostasia e mecanismos de defesa (Ingman et al.1994). A principal diferença diz respeito à vascularização.
Os tecidos moles peri-implantares funcionam como uma barreira contra a invasão bacteriana reagindo à formação de placa com uma reação inflamatória, semelhante em tamanho e composição à que ocorre nos dentes, havendo migração apical do epitélio e perda de osteointegração semelhante à que ocorre em periodontite agressiva, tendo em conta a quantidade de linfócitos T (Bullon et al. 2004). No entanto, no processo de inflamação, não há um aumento da proliferação vascular (neoformação de vasos sanguíneos) como ocorre nos dentes.
As duas estruturas que rodeiam os implantes e que previnem a infeção bacteriana, são: zona de células epiteliais aderidas, embora seja mais permeável do que nos dentes e a zona rica em fibroblastos, formando estas duas zonas uma barreira entre o ambiente oral e o osso peri-implantar (Moon et al.1999).
Por vezes a terapia com implantes está associada ao insucesso. Este pode ocorrer por complicações imediatas, logo após a colocação do implante, ou tardias, quando a prótese sobre o implante já está em função durante um certo período de tempo (Lindhe.2005). Os fracassos que ocorrem imediatamente após a colocação de um implante devem-se a fenómenos que interferem ou evitam a osteointegração. Ao contrário, o insucesso tardio ocorre quando a osteointegração do implante, inicialmente estável, é perdida em função (Lindhe.2005). Este insucesso resulta de sobrecarga oclusal e/ou infecção. Apesar da resposta do tecido peri-implantar associada à sobrecarga durante a função ainda não estar esclarecida, pensa-se existir destruição
óssea na área de osteointegração. Este é um fenómeno de difícil definição, sendo subjectivo e variando consoante o tamanho e superfície do implante, e a qualidade óssea do leito cirúrgico (Lindhe.2005). O insucesso associado à infecção depende da resposta do hospedeiro à formação de biofilme sobre o implante e da sua susceptibilidade. Por vezes, os fracassos tardios têm etiologia mista, sobrecarga e infecção, sendo controverso qual dos dois factores despoleta o processo de insucesso (Esposito et al., 1998).
Exitem dois tipos de infecção associadas aos tecidos peri-implantares: a mucosite peri- implantar e a peri-implantite. Enquanto a mucosite é definida como a inflamação gengival reversível limitada aos tecidos moles, a periimplantite consiste numa reacção inflamatória dos tecidos peri-implantares acompanhada de perda de osso de suporte em redor do implante em função (Albrektsson & Isidor 1994).
Em suma:
A reabilitação e claro os cuidados de higiene oral são primordiais para o sucesso dos implantes. A reabilitação deve ser ponderada previamente à colocação dos implantes (planeamento reverso). Para além do planeamento a oclusão é um conceito fundamental para o sucesso dos implantes a longo-prazo. Na prótese final desta paciente e em qualquer prótese sobre implantes a oclusão deverá possuir guia anterior em protrusão e contatos laterais em função e parafunção, cúspides pouco inclinadas nos dentes posteriores que assentem na fossa central dos oponentes, para que a sobrecarga lateral sobre dentes e implantes seja minimizada (Martinez-Lage-Azorin, J. F. et al. 2013)
-
-
Caso Clínico
-
Anamnese
O objetivo principal do caso clínico que vos apresento incidiu na reabilitação total da paciente C.M. de 53 anos, sexo feminino, desdentada total superior há mais de trinta anos. Para atingir esse fim seria necessária a reabilitação total da maxila onde se colocou seis implantes no primeiro módulo cirúrgico, cirurgia realizada pela Dr.ª Margarida Cortez que documentou devidamente e apresentou no âmbito do curso.
O caso cínico pressupunha também a reabilitação do maxilar inferior com uma ponte de quatro elementos sobre três implantes de cada quadrante respetivamente, quarto e o terceiro. Contudo, por via de limitação temporal no âmbito do curso, apenas conseguimos realizar as cirurgias relativas ao maxilar superior e à reabilitação do quarto quadrante.
Figura 1 – Ortopantomografia inicial
-
Situação clínica inicial
Na ortopantomografia (Figura 1) observa-se uma altura satisfatória, o rebordo alveolar no exame clínico parece favorável à colocação de implantes (Figura 2D).
-
Figura 2 – Fotografias intraorais.
A- Próteses pré-existentes; B- Rebordos alveolares sem próteses; C – Rebordo maxilar; D –
Rebordo mandibular
A
B
C
D
Figura 3 – Fotografias extra-orais da cavidade oral.
A – Repouso sem prótese; B – Sorriso sem prótese; C – Repouso com prótese; D – Sorriso com prótese.
Após exame clínico e radiográfico foi detetada ausência parcial de dentes na mandíbula (Figura 1 e 2D). Pode observar-se que os dentes das próteses pré-existentes estão gastos e com a curvatura natural do sorriso invertida (Figura 3D), em repouso com a prótese (Figura 3C) a paciente não mostra dentes anteriores.
A
B
C
C
D
Figura 4 – Fotografias iniciais de rosto.
A- Em repouso com a prótese antiga; B – Em repouso sem prótese; C – Sorriso máximo com a prótese antiga; D – Sorriso máximo sem a prótese.
Neste caso tanto a fase cirúrgica como a de reabilitação foram divididas em maxila e hemi-mandibula; o caso que exponho é da reabilitação do quarto quadrante:
Para planeamento e avaliação da disponibilidade óssea estudámos a TAC através do
software informático Blueskyplan®.
-
Opções terapêuticas
Optou-se pela colocação de três implantes na mandíbula. Evitou-se a região do artefacto ósseo.
Figura 5 – Planeamento tomográfico no programa Blueskyplan®
-
Protocolo selecionado
-
Protocolo pré-cirúrgico:
Confeção da guia cirúrgica através da duplicação da prótese atual da paciente com acrílico transparente e perfuração da mesma segundo as medições feitas no software informático Blueskyplan®.
-
Protocolo cirúrgico:
A cirurgia foi realizada segundo o protocolo; contudo, aquando da colocação do primeiro implante correspondente ao 44, ocorreu uma fenestração ligeira em vestibular que rapidamente se corrigiu lingualizando a colocação do implante com a broca Ceraburr® e regenerando em vestibular com fosfato tricálcio na zona (Figura 6E).
A distância entre implantes foi superior a 3mm,e os implantes selecionados foram plataforma switching, conexão cone morse Infra® da marca Signo Vinces®.
No entanto devido às correções nas inclinações no momento cirúrgico, a distância dente 43 e implante do 44 ficou mesmo no limite do 1,5mm.
Neste caso clínico, devido aos acidentes anatómicos e à disponibilidade óssea o planeamento comprometia algum paralelismo. Esse fato não invalidou que no momento cirúrgico se verificasse sempre o paralelismo conseguindo um resultado final satisfatório nesse sentido (Figura 5 e 6C).
Abaixo segue-se a descrição do protocolo cirúrgico:
-
Desinfeção (extra oral com Betadine® e intraoral – bochecho clorohexidina);
-
Anestesia (Infiltrativas; intra-ligamentares no rebordo; nunca troncular);
-
Incisão supra cristal com duas descargas para vestibular. Na mandíbula é importante ter atenção à descarga na região do 44 de modo a evitar o buraco mentoniano onde sai o nervo alveolar inferior (Figura 6A);
-
Descolamento mínimo necessário para visualizar o rebordo;
-
Colocação da guia cirúrgica em posição e marcação no osso das zonas a perfurar (Figura 6B);
-
Descolamento completo do periósteo;
-
Broca lança a 2mm em todas as zonas marcadas e confirmação do paralelismo (Figura 6C);
10. Colocação dos implantes a 20 rpm;
11. Medição do ISQ (índice de estabilidade primária) com OSTEL®, tendo-se registado os valores do torque de inserção dos implantes e de ISQ (Tabela 1);
10. Sutura contínua.
Caso o paciente possua uma PTR bem-adaptada e esteticamente satisfatória para o clínico e para o paciente, a mesma pode ser duplicada em resina acrílica transparente e usada como guia radiológica durante o planeamento e como guia cirúrgica durante a intervenção para colocação dos implantes. Uma opção alternativa de planeamento reverso seria ter começado por um enceramento de diagnóstico, duplicá-lo e fazer uma guia cirúrgica de acordo com o resultado final pretendido ou confecionar uma nova prótese provisória. Uma vez que a prótese da paciente possuía os requisitos mínimos de boa adaptação e de estabilidade optou-se por utilizar a mesma como guia tomográfica e cirúrgica.
Percebeu-se neste caso clínico que a guia cirúrgica, apesar de cuidadosamente replicada, medida e perfurada não pode constituir uma orientação cega da zona a perfurar para a colocação de implantes. Durante a cirurgia todas as marcações iniciais feitas no osso tiveram de ser corrigidas pois não se encontravam no centro da crista óssea e sim por defeito mais para vestibular, o que arrisca uma perfuração da cortical óssea vestibular durante a instrumentação, seguida de uma provável fenestração do implante. Todas as perfurações, estavam bem orientadas no sentido mésio-distal .(Figura 6B).
A
B
C
D
E
F
G
H
Figura 6 – Etapas cirúrgicas planeadas.
A – Incisão para visualização do rebordo; B – Colocação da guia cirúrgica em posição; C – VHerificação do paralelismo com os paralelizadores até ao comprimento de trabalho após instrumentação com a broca lança; D – Instalação dos implantes; E – Enxerto para resolução da fenestração; F – Sutura com os parafusos cicatrizadores; G – Imagens radiográficas; H – Passados 2meses.
-
-
Protocolo de Reabilitação (pós-cirúrgico)
Após uma semana foi removida a sutura. Devido a imprevistos de ordem pessoal a paciente optou por fazê-lo no hospital mais próximo. Foi apenas possível documentar a cicatrização ao fim de dois meses (Figura 6H).
Foram feitas impressões em alginato em moldeira individual, montagem do arco facial (para determinar o plano horizontal), prova de cera e registo interproximal para marcação das linhas de referência e determinação da dimensão vertical ideal (Figura 7).
Por questões de tempo não foi possível terminar a reabilitação do maxilar superior nem inferior da paciente antes da apresentação do presente trabalho. No entanto na montagem dos dentes procurou-se posicioná-los onde estariam originalmente antes da reabsorção do rebordo ósseo, sendo esta uma das vantagens da reabilitação com PTRIS; método escolhido pela Dr.ª Margarida Cortez no planeamento da reabilitação da maxila.
Em 1989, Misch propôs cinco opções protéticas para reabilitar implantes. As três primeiras opções são reabilitações fixas. Estes três tipos de reabilitações podem ser parciais ou totais, ser cimentadas ou aparafusadas. Estas classificações dependem da quantidade de tecido duro e mole que necessitam de ser reabilitados, e aspectos/aparência protética na zona estética. Os outros dois tipos de reabilitações são removíveis e dependem da quantidade de suporte dada pelos implantes e não do aspecto estético das próteses (Misch, 2008).
Uma reabilitação sobre implantes cumpre os requisitos estéticos quando está em harmonia com as estruturas faciais peri-orais. A estética dos tecidos peri-implantares, implica que estes apresentem saúde, altura, volume, cor e contorno de acordo com os dentes saudáveis existentes. A reabilitação deve mimetizar a natural aparência dos dentes perdidos, no que diz respeito à sua cor, textura, forma, tamanho e propriedades ópticas (Belser et al., 2004)
Segundo Walton et al. 2001, cit in. (Stephens et al.,2014) é raro conseguir-se obter implantes completamente paralelos, principalmente se colocados por implantologistas inexperientes (Stephens et al., 2014). Por esta razão, na reabilitação mandibular que me competiu, e tratando-se duma ponte com quatro elementos sobre três implantes, decidimos colocar parafusos dinâmicos. A oclusão no meu caso em concreto depende
única e exclusivamente da reabilitação total da maxila realizada pela Dr.ª Margarida Cortez.
Figura 7 – Etapas protéticas.
A – Montagem do arco facial; B – Ceras de registo intermaxilar com linhas de referência (linha média, linha de sorriso máximo, linha dos caninos); C – Determinação da DVO ideal; D – Prova de dentes no articulador.
-
-
Situação clínica final (Prova de dentes)
Figura 8– Situação clínica final.
A – Sorriso inicial da paciente com PTR; B – Posição de repouso inicial; C – Perfil inicial; D – Sorriso final com PTRIS; E – Posição de repouso final; F – Perfil final.
Como já foi referido, esta é a situação clínica final à data da entrega do presente trabalho. São visíveis melhorias significativas na prova de dentes que se irão refletir na prótese final.
-
-
Discussão
Nos últimos anos, a Implantologia tornou-se um procedimento comum na reabilitação de dentes ausentes. Devido à excelente biocompatibilidade demonstrada pelos implantes, ocorre um fenómeno designado por osteointegração entre o osso e o implante dentário.
A extensão e qualidade da osteointegração depende de vários factores, nomeadamente: higiene do paciente, técnica do operador, abordagem cirúrgica, geometria e superfície do implante, qualidade e disponibilidade óssea. Um osso de melhor qualidade possibilita uma maior estabilidade primária do implante, traduzindo-se numa melhor osteointegração e maior taxa de sucesso (Yi-Chun Ko et al., 2017).
O comprimento e diâmetro do implante, proximidade a estruturas adjacentes e tempo requerido para alcançar a osteointegração variam nas diversas áreas dos maxilares.
As considerações anatómicas mais importantes ao colocar implantes na mandíbula são a localização do canal alveolar inferior e a artéria sublingual. A região anterior da mandíbula é geralmente a área menos complicada no plano de tratamento em relação a limitações anatómicas. A mandíbula é geralmente larga e alta o suficiente para fornecer osso adequado para a colocação de implantes. A qualidade óssea é em geral excelente, o que faz dessa área da mandíbula a que requer o menor tempo para a osseointegração. Na área de pré-molares, deve-se tomar cuidado para assegurar que o implante esteja posicionado anteriormente ao buraco mentoniano. Outra complicação anatómica frequente é a perfuração da artéria sublingual ou submentoniana. Os ramos da artéria sublingual que irrigam a zona lingual da mandíbula estão localizados perto da cortical lingual. Isso implica um risco aumentado de hemorragia se o osso cortical lingual for perfurado durante a cirurgia para colocação de implantes.
A disponibilidade óssea é um conceito relativo à quantidade de osso existente numa zona edêntula que irá ser submetida à colocação de implantes. Este parâmetro é definido pela largura, altura, comprimento mésio-distal, angulação e espaço para a coroa em altura (Misch, 2008).
A quantidade de osso disponível é particularmente importante na implantologia, representando o volume da zona edêntula a reabilitar com implantes. Antigamente, a
quantidade de osso existente na região candidata não era alterada, sendo a disponibilidade óssea o fator principal para desenvolver o plano de tratamento. Tendo por base a disponibilidade óssea, o plano de tratamento era efetuado ajustando-se o número, distribuição e tipo de implantes à quantidade óssea existente.
Nos dias de hoje, o planeamento é feito de forma reversa, tendo como fator principal a opção protética definida para cada caso, ou seja, idealmente a reabilitação é que condicionará o local de colocação dos implantes.
Quanto ao volume de osso existente; em situações onde existe um defeito ósseo ou quando a colocação do implante não é possível no local ideal para a reabilitação, a regeneração óssea guiada antes da colocação do implante representa o método ideal. É de considerar a relação tridimensional existente entre o osso e o implante de forma a estabelecer uma ideal e harmoniosa condição dos tecidos moles circundantes que se torne estável ao longo do tempo. Em algumas situações, a falta de osso é um fator que condena a estética das reabilitações com implantes; noutras é possível aumentar a disponibilidade óssea através de procedimentos regeneradores. Sendo considerado um dado adquirido, que assim que se coloca um implante, ocorre reabsorção óssea.
Se pretendermos alcançar uma boa estética, minimizar a reabsorção óssea, e manter bons resultados a longo-prazo (Grunder et al., 2005) é fundamental considerar fatores tais como:
-
A distância entre implante-dente;
-
A distância entre dois implantes;
-
E o volume de osso existente em vestibular.
Como regra geral, a colocação de um implante nunca deve ser efetuada a menos de 3mm de outro implante e/ou a menos de 1,5mm de um dente natural (Misch, 2008). Num estudo realizado por Tarnow et al.(2000), verificaram que a perda óssea foi superior quando os implantes não estavam espaçados mais do que 3 mm, resultando numa maior perda de osso interproximal.
Regeneração óssea guiada; um dos objetivos da regeneração óssea guiada é a formação de novo osso em locais com volume ósseo deficiente. Outro objetivo é tratar fenestrações e deiscências em superfícies de implantes, bem como defeitos associados com a colocação imediata de implantes em locais de extração (Hitti&Kerns, 2011).
Blocos de osso autógeno, por si só, ou em combinação com o substituto ósseo e/ou membranas de colagénio, são os procedimentos mais confiáveis e bem-sucedidos para aumentos faseados de grandes defeitos ósseos, antes da colocação do implante (Benic&Hämmerle, 2014). Sendo assim, uma avaliação pré-cirúrgica da quantidade e qualidade óssea da região candidata à colocação de implantes dentários é imperativa (Al-Ekrish et al., 2011).
No caso clínico em questão, esse fator foi tido em consideração; no entanto como as cirurgias sujeitavam-se a restrições temporais (decorrer do curso) não foram equacionadas tais opções.
Não menos importante é a densidade óssea, apresentando-se como um fator a ter em consideração durante o planeamento (Misch, 2008).
Segundo a classificação de Misch criada em 1998, baseada na densidade óssea avaliada clínica e radiograficamente, existem 5 tipos de osso: Osso D1 (cortical densa), D2 (cortical densa e osso trabeculado grosso), D3 (cortical óssea fina e osso trabeculado fino), D4 (osso trabecular fino e praticamente ausência de cortical) e D5 (osso não mineralizado ou imaturo). Na maxila predomina o tipo D3 e D4, contrastando com a mandíbula (onde predomina osso D1 e D2) (Sadowsky et al.,2015), possibilitando em implantes colocados na mandíbula obter índices de estabilidade primária superiores, resultando mais comummente numa osteointegração de sucesso (Tealdoet al.,2008).
No momento cirúrgico o torque de inserção mais baixo corresponde ao implante que teve de levar enxerto (44) vestibular, em relação aos outros implantes os torques não variam muito. Com valores de ISQ acima de 65 já é possível carregar de forma progressiva os implantes e colocar parafuso cicatrizador (Figura 6F). Num estudo realizado por Tarnow et al.(2000), os autores chegaram à conclusão de que após a realização do second-stage, aquando da colocação dos pilares, existia perda óssea, logo conseguir ter valores de ISQ que permitam colocar os parafusos cicatrizadores no momento cirúrgico é um bom indício.
Tabela 1 – Comparação do torque de inserção de cada implante e dos valores de ISQ iniciais e passados e meses
Implante zona
4.4
4.6
4.7
Torque Inserção
(Newtons)
50
46
47
ISQ
inicial
ISQ
final
VL: 80
MD: 84
VL: 67
MD: 78
VL: 80
MD: 70
VL: 83
MD: 83
VL: 79
MD: 78
VL: 81
MD: 81
Após o período de três meses de osteointegração todos os implantes apresentavam valores de ISQ superior a 65 (Tabela 1).
-
-
Conclusão
Atualmente o planeamento em Implantologia é realizado de forma reversa, ou seja, a prioridade é estabelecer o tipo de reabilitação a utilizar, posição, tamanho e cor dos dentes, bem como se é fixa ou removível; para isso é necessária uma avaliação criteriosa de vários fatores através de uma análise estética e compreensão de quais as expectativas do paciente. Apenas depois de definido o tipo de reabilitação é que devemos fazer o planeamento cirúrgico para a colocação dos implantes. Um dos fatores essenciais para a colocação de implantes é a disponibilidade e tipo de osso existente; devemos respeitar determinados requisitos em termos de posicionamento e relação dos implantes com as outras estruturas existentes, nomeadamente as estruturas nobres, dentes naturais e outros implantes. Contudo, a limitação em termos de disponibilidade óssea não deve condicionar a nossa opção protética; devem ser utilizados todos os métodos de diagnóstico ao nosso alcance, de forma a definir se será necessário recorrer a técnicas de regeneração óssea para que a posição do implante vá de encontro ao plano de reabilitação idealizado. É comum verificarmos que a relação entre a crista residual e o ideal posicionamento dos dentes não é a adequada, muitas das vezes devido ao padrão fisiológico de reabsorção óssea.
Em jeito de reflexão, devemos ter sempre em mente que o paciente procura “dentes” e não implantes. O resultado final será sempre a reabilitação e essa deve guiar o nosso planeamento, sendo os implantes apenas o suporte das mesmas.
Bibliografia
Albrektsson, T. & Isidor, F. (1994). Consensus report: implant therapy. In: Lang, N.P. & Karring, T. (eds). Proceedings of the 1st European Workshop on Periodontology. Berlin: Quintessence, pp.365-369
Al-Ekrish, A. A. e Ekram, M. (2011). A comparative study of the accuracy and reliability of multidetector computed tomography and cone beam computed tomography in the assessment of dental implant site dimensions. DentomaxillofacRadiol, 40(2), pp. 67–75.
Al-Khabbaz, A. K., Griffin, T. J. e Al-Shammari, K. F. (2007). Assessment of pain associated with the surgical placement of dental implants. Journal of Periodontology, 78(2), pp. 239–46.
Al-Nawas, B. e Schiegnitz, E. (2014). Augmentation procedures using bone substitute materials or autogenous bone – a systematic review and meta-analysis. Eur J Oral Implantol., 7(Suppl 2), pp. S219-S234.
Annibali, S. et alii. (2008). Local Complications in dental implant surgery: prevention and treatment. Oral and Implantology, 1(1), pp. 21–33.
Atwood, D. A. (1971). Reduction of residual ridges: a major oral disease entity. J Prosthet Dent., 26(3), pp. 266-79.
Aziz, S. R. (2015). Hard and Soft Tissue Surgical Complications in Dental Implantology. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America, 27(2), pp. 313–318.
Belser, U., Buser, D. e Higginbottom, F. (2004). Consensus statements and recommended clinical procedures regarding esthetics in implant dentistry. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 19(Suppl), pp. 73-74.
Benic, G. I. e Hämmerle, C. H. (2014). Horizontal bone augmentation by means of guided bone regeneration. Periodontology 2000, 66(1), pp. 13–40.
Berglundh. T. et alii. (1991).The soft tissue barrier al implants and teeth. Clinical Oral Implants Research 2, pp. 81-90,
Bullon P. et alii. (2004). Immunohistochemical analysis of soft tissues in implants with healthy and peri-implantitis condition, and aggressive periodontitis. Clin Oral Implants Res,15, pp. 553–9.
Buser, D. et alii. (1999). Localized ridge augmentation with autografts and barrier membranes. Periodontology 2000, 19, pp. 151-163.
Carpentieri, C. e Drago, J. (2011). Treatment of the edentulous and partially edentulous maxillae: clinical guidelines. J Implant Reconstructive Dent, 3(1), pp. 8–17.
Dawson, A. et alii. (2009). SAC classification in implant dentistry. Berlin, Quintessence Publishing Co Ltd.
Esposito, M., Ekestubbe, A. e Grondahl, K. (1993). Radiological evaluation of marginal bone loss at tooth surfaces facing single Brånemark implants. Clin Oral Implants Res, 4(3), pp. 151–157.
Esposito, M., J. M. Hirsch, et al. (1998). Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants. (I). Success criteria and epidemiology.Eur J Oral Sci. 106(1), pp. 527-551.
Figueiredo, M. et alii. (2010). Physicochemical Characterization of Biomaterials Commonly Used in Dentistry as Bone Substitute – Comparisonwith Human Bone. J Biomed Mater Res B Appl Biomater., 92(2), pp. 409-419.
Fradeani, M. (2004). Esthetic Rehabilitation In Fixed Prosthodontics: Esthetic Analysis. USA, Quintessence Publishing Co, Inc.
Goodacre, K. J. (1999). Clinical complications of osseointegrated implants. J Prosthet Dent, 81(5), pp. 537–552.
Gould. T.R.L,.Brunette. DM, &‘Westbury. L.(1981). The attachment mechanism of epithelial cells to titanium in vitro. Journal of Periodontial Re.warch,16, pp. 611-616.
Gowd, M. S. et alii. (2017). Prosthetic consideration in implant-supported prosthesis: A review of literature. J Int Soc Prev Community Dent., 7(Suppl 1), pp. S1-S7.
Greenstein, G. et alii. (2008). Clinical recommendations for avoiding and managing surgical complications associated with implant dentistry: a review. Journal of Periodontology, 79(8), pp. 1317–29.
Grunder, U., Gracis, S. e Capelli, M. (2005). Influence of the 3-D Bone-to-Implant Relationship on Esthetics. Int J Periodontics Restorative Dent, 25(2), pp. 113–119.
Hämmerle, C. H. e Jung, R. E. (2003). Bone augmentation by means of barrier membranes. Periodontology 2000, 33, pp. 36–53.
Hwang, D. e Wang, H.-L. (2007). Medical contraindications to implant therapy: Part II: Relative contraindications. ImplantDentistry, 16(1), pp. 13–23.
Ingman T. et alii. (1994). Collagenase, gelatinase and elastase activities in sulcular fluid of osseointegrated implants and natural teeth. J Clin Periodontol, 21, pp. 301–7.
James RA. et alii. (1973). Hemidesmosomes and the adhesion of junc- tional epithelium cells to metal implants. J Oral Implantol,4, pp. 294-302.
Janssen JA. et alii. (1985). Ultrastructural study of epithelial cell attachment to implant materials. J Dent Res., 64, pp. 891-896.
Karoussis, I. K., S. Muller. et alii. (2004). Association between periodontal and peri- implant conditions: a 10-year prospective study. Clin Oral Implants Res. 15(1), pp. 1-7.
Kasten FH. et alii. (1990). Quantitative evaluation of human gingiva epithelial cell attachment to implant surface in vitro. Int J Periodontics Restorative Dent., 10 pp.68- 79.
Kini, U. e Nandeesh, B. N. (2012). Physiology of Bone Formation, Remodeling, and Metabolism. In: Fogelman, I., Gnanasegaran, G. e van der Wall, H. (Eds.). Radionuclide and Hybrid Bone Imaging. Berlin, Springer-Verlag, pp. 29-57.
Ko, Y. C. et alii. (2017). Variations in crestal cortical bone thickness at dental implant sites in different regions of the jawbone. Clin Implant Dent Relat Res., 19(3), pp. 440- 446.
Lang, N. P. e Lindhe, J. (2015). Implant Dentistry, 2 Volume Set. (6th ed.). New Jersey, Wiley-Blackwell.
Lekholm, U. e Zarb, G.A. (1985). Patient selection and preparation. Chicago, IL, Quintessence.
Leles, C.R. e Freire, C. A. (2004). A sociodental approach in prosthodontic treatment decision making. J Appl Oral Sci., 12(2), pp. 127-32.
Lindhe, J. eKarring, T. (2005). Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. (4ª ed.). Guanabara, Koogan.
Listgarten MA. et alii. (1991). Periodontal tissues and their counterparts around endosseous implants. Clin Oral Implants Res.,2, pp. 1–19.
Maeda Y. et alii. (2006). Vitro differences of stress concentrations for internal and external hex implant-abutment connections: a short communication. J Oral Rehabil. Jan., 33 (1), pp.75-8.
Martinez-Lage-Azorin, J. F. et al. (2013). Rehabilitation with implant-supported overdentures in total edentulous patients: a review. Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 5, pp. 267-272
Milinkovic, I. e Cordaro, L. (2014). Are there specific indications for the different alveolar bone augmentation procedures for implant placement? A systematic review. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 43(5), pp. 606–625.
Misch, C. (2000). Implantes Dentários Contemporâneos. (2ª ed.). Brasil, Elsevier. Misch, C. (2008).Contemporary Implant Dentistry. (3ª ed.). St. Louis, Mosby.
Monteiro, D.R. et alii. (2015). Posterior partially edentulous jaws, planning a rehabilitation with dental implants. World J Clin Cases, 3(1), pp. 65-76.
Moon, I‐S., Berglundh, T., Abrahamsson, I., Linder, E. & Lindhe, J. (1999). The barrier between the keratinized mucosa and the dental implant. An experimental study in the dog. Journal of Clinical Periodontology, 26, pp. 658–663.
Oikarinen, K. et alii. (1995). General and local contraindications for endosseal implants
– an epidemiological panoramic radiograph study in 65-year-old subjects. Community Dent Oral Epidemiol, 23(2), pp. 114-8.
Oliveira GR. et alii. (2014).Bacterial contamination along implant-abutment interface in external and internal-hex dental implants. Int J Clin Exp Med. Mar., 15;7(3), pp. 580- 5.
Peterson, L.J., Ellis, E. e Hupp J.R.(2000). Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. (3ª ed.). Guanabara, Koogan.
Pikos, M. A. (2005). Mandibular Block Autografts for Alveolar Ridge Augmentation.
Atlas Oral Maxillofacial Surg Clin N Am., 13(2), pp. 91–107.
Quirynen, M. e Teughels, W. (2003). Microbiologically compromised patients and impact on oral implants. Periodontology2000, 33, pp. 119–128.
Ramseier, C. A. et alii. (2012). Advanced reconstructive technologies for periodontal tissue repair. Periodontology 2000, 59(1), pp. 185–202.
Ruggeri A. et alii. (1992). Supracrestal circular collagen network around osseointegrated nonsubmerged titanium implants. Clin Oral Impl Res, 3, pp. 169-175.
Ruggeri A. et alii. (1994). Histologie and ultrastructural findings of gingival circular ligament surrounding osseointe- grated nonsubmerged loaded titanium implants. Int Oral Maxillofac Impl, 9, pp. 636-643.
Sadowsky, S. J., Fitzpatrick, B. e Curtis, D. A. (2015). Evidence-Based Criteria for Differential Treatment Planning of Implant Restorations for the Maxillary Edentulous Patient. Journal of Prosthodontics, 24(6), pp. 433–446.
Shah, R.et alii. (2016).Periodontal biotype: Basics and clinical considerations. J Interdiscip Dentistry, 6(1), pp. 44-9.
Smith, A. J.et alii. (2012). Dentine as a bioactive extracellular matrix. Archives of Oral Biology, 57(2), pp. 109–121.
Spray, R.J. et alii(2000). The influence of bone thickness on facial marginal bone response: Stage 1 placement through stage 2 uncovering. Ann Periodontol, 5(1), pp. 119–128.
Stephens, G. J. et alii. (2014). The Influence of Interimplant Divergence on the Retention Characteristics of Locator Attachments, a Laboratory Study.Journal of Prosthodontics, 23(6), pp. 467–475.
Tabatabaei, F. S. et alii. (2016). Different methods of dentin processing for application in bone tissue engineering: A systematic review. Journal of Biomedical Materials Research – Part A, 104(10), pp. 2616–2627.
Tarnow, D.P., Cho, S.C. e Wallace, S.S. (2000). The effect of inter-implant distance on the height of inter-implant bone crest. J Periodontol, 71(4), pp. 546-549.
Tealdo, T. et alii. (2008). Immediate function with fixed implant-supported maxillary dentures: A 12-month pilot study. The Journal of Prosthetic Dentistry, 99(5), pp. 351- 360.
Tjan, A. et alii. (1984). Some esthetic factors in a smile. Fixed Prosthodontics/ Operative Dentistry, 51(1), pp. 24-28.
Tutak, M. et alii. (2013). Short dental implants in reduced alveolar bone height: A review of the literature. Med Sci Monit, 19, pp. 1037-1042.
Yi-Chun Ko. et alii. (2017).Variations in crestal cortical bone thickness at dental implant sites in different regions of the jawbone. Clin Implant Dent Relat Res., 19(3),
pp. 440-446.
Yildirim, M. et alii. (2000). Ceramic abutments–a new era in achieving optimal esthetics in implant dentistry. Int J Periodontics Restorative Dent., 20(1), pp. 81-91.